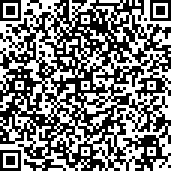Ao não cair nas nas armadilhas que o combate à corrupção pode impor ao setor público, a Lei Anticorrupção supera os 10 anos sendo aplicada de forma efetiva, respeitada pelo mercado e com disposição e espaço para ser aperfeiçoada com a participação da comunidade de compliance
Poucos elementos estão tão presentes no contexto da vida pública ao longo dos diferentes períodos da história quanto à corrupção. Embora em um contexto mais relacionado a valores, morais e costumes, combatê-la é algo que moveu pensadores desde a Antiguidade.
O uso da corrupção como arma política tão pouco é um acontecimento dos nossos tempos. Desde a idade média, na medida em que as sociedades foram ficando mais complexas e o número de atores com influência e poder de decisão na vida política e social – mesmo em regime autocráticos -, cresceu, o seu uso avançou na mesma proporção. Acusar o outro de corrupto (e nesse contexto, já considerando também a obtenção ou concessão de vantagens materiais por meios considerados ilícitos), é algo que ao mesmo tempo desvaloriza o oponente, tentando colar nele a desconfiança e a indignação popular, como por oposição, posiciona o acusador como alguém íntegro, “que não rouba”… Enfim, nada que tenha mudado muito em essência ao longo dos séculos.
A corrupção como ferramenta de acusação é comum porque também é algo de fácil compreensão pela população, na linha do “estão roubando um dinheiro que deveria retornar para você”; ou melhor, um dinheiro que é seu. Ou seja, ‘eles estão te roubando’”. Ainda hoje, muitas pessoas acham que, não fosse pela corrupção que acontece “lá em cima”, eles poderiam pagar menos impostos ou obter mais benefícios do Estado. Isso não é exatamente uma realidade fática, mas que tem forte apelo junto à população de qualquer lugar, isso é inegável.
Embora tenha esse verniz objetivo, como que de “causa e efeito”, na prática, o uso da corrupção como ferramenta política é algo que reflete na esfera moral, muito mais do que na econômica, daí também a sua popularidade. A revolta de parte da sociedade contra a corrupção (dos políticos, principalmente) como uma questão moral costuma provocar muito barulho, e em determinados momentos, ser um dos elementos que compõem a construção de narrativas para tentativas de golpes de Estado à esquerda e à direita. Toda essa “indignação do povo”, ao longo de décadas, ajuda a criar algum grau de pressão sobre as instituições e, claro, tem a sua importância em vários momentos da história. Mas ela não pode ser encarada como o fator mais relevante para o combate à corrupção propriamente dito.
Não é de todo errado dizer que a corrupção, tratada como uma questão de moralidade pública, acaba funcionando como uma cortina de fumaça que mais atrapalha do que ajuda na construção de soluções reais para o problema. Via de regra, são concertações institucionais e de governança costuradas ao longo de anos, às vezes décadas, em diferentes esferas e com a participação de diferentes agentes do setor público e da sociedade civil, que oferecem as melhores respostas para aprimorar o arcabouço legal do País, diminuir as brechas e mitigar de forma mais efetiva os riscos relacionados à corrupção nas relações público e privadas. Muitas vezes, esses acordos passam pela necessidade de atender a tratados internacionais com os quais o Estado brasileiro se comprometeu, o que também resulta em uma pressão objetiva e efetiva. Longe dos holofotes (o que não significa fazê-lo sem transparência e seriedade) e do barulho das ruas, os atores sérios conseguem tratar melhor com a realidade das situações.
A construção da Lei Anticorrupção (LAC) é um bom exemplo desse processo, sem o barulho das massas, mas que é fruto de uma construção ampla e, na medida do possível, moderada e adequada à realidade brasileira. O processo remonta aos acordos assinados pelo Brasil na primeira década do novo milênio com a ONU e a OCDE. Em 2006, sob a gestão de Jorge Hage, então Controlador-Geral da União, aconteceu o início do diálogo entre o setor privado e o setor público, com autoridades de controle sentando junto com empresas e advogados intermediados pela sociedade civil, que coordenavam um pacto setorial contra a corrupção.
A LAC tinha a missão de adequar o Brasil à convenção antissuborno da OCDE, que trata da corrupção de agentes públicos por empresas no exterior, crime que já havia sido tipificado no Brasil, mas que não permitia a responsabilização das pessoas jurídicas (e dificultava muito a prisão dos seus líderes), o que foi alvo de duras críticas durante o processo de avaliação mútua do Grupo de Trabalho Anti Suborno Internacional da OCDE em 2007. Em 2014, a OCDE voltaria para fazer uma nova avaliação. Naturalmente, a entidade esperava que a impossibilidade de punir as empresas por corrupção internacional de agentes públicos fosse sanada no arcabouço legal tupiniquim. E como não se pode prender uma empresa, era preciso criar mecanismos que a fizessem pagar por isso. Embora seja um dos maiores exportadores de alimentos e commodities do mundo, as empresas brasileiras sempre foram muito orientadas para o mercado interno. Ainda hoje, são relativamente poucas as companhias locais que operam diretamente em mercados internacionais. Engendrar uma legislação para cumprir especificamente com o que pedia a OCDE seria algo relativamente simples e de impacto limitado para o ambiente corporativo. Mas a opção do Estado brasileiro foi a de ir além. De certa forma, aproveitou-se a oportunidade para construir uma lei ampla, que mais do que se limitar a punir a corrupção, poderia contribuir para mudar o mindset no ambiente de negócios nas relações público e privadas.
A comissão especial do PL 6826, o projeto de lei do executivo que deu origem à LAC, realizou várias discussões, consultas e seminários para debater o tema. Foram estabelecidos os “Seminário/Fórum de Debates com a Comissão Especial do PL 6826, de 2010 – Atos Contra a Administração Pública”, um evento que tinha a seguinte justificação: “considerando o momento de mobilização social contra a corrupção, que enfraquece as instituições e os valores das democracias é hora de buscar por meio do debate com as autoridades e entidades especialistas no assunto propostas para a elaboração e o aperfeiçoamento da nossa legislação, tornando-a mais rigorosa para a punição não somente das pessoas físicas, mas também da outra ponta do processo de corrupção, as empresas corruptoras, a exemplo do que já ocorre nas democracias mais avançadas”.
Por uma dessas coincidências do destino, um dos primeiros eventos foi requerido em 2011, pelo relator do projeto, o Deputado Carlos Zarattini (PT/SP): o “Seminário/Fórum de Debates em Curitiba”. Mas os eventos foram realizados em várias cidades e os especialistas em compliance, representado por nomes como Bruno Maeda, sócio do Maeda, Ayres e Shin Jae Kim, líder da prática de Investigações e Compliance no Tozzini Freire, de fato, participaram do processo. O então diretor da OCDE, Nicola Bonucci, hoje um proeminente advogado especialista em Compliance, também participou de uma dessas reuniões. Carlos Ayres, sócio do Maeda, Ayres, lembra que num misto de brincadeira e pressão velada, ele disse que até aquele momento, apenas três países signatários da convenção não responsabilizavam pessoas jurídicas por atos de corrupção no exterior: Irlanda, Brasil e Argentina, e disse acreditar que os brasileiros não gostariam de ficar atrás dos argentinos nesse jogo.
O texto da LAC não foi influenciado pelos rumorosos protestos que tomaram as ruas do Brasil em junho de 2013 – ele já estava pronto, esperando apenas a sanção presidencial. Mas uma das respostas da Política (do governo, no caso) às ruas, foi justamente a sanção e publicação da LAC. Caso o texto ainda estivesse em discussão no Congresso Nacional naqueles dias de conturbação, é bem provável que no afã de responder às ruas (ou buscar se aproveitar da situação), certamente teríamos propostas que poderiam, no final, resultar em um texto muito mais rígido com o combate à corrupção praticada pela empresas junto ao setor público, e provavelmente, bem pior do que o que foi publicado de fato.
A presença dos profissionais de compliance nas discussões foi fundamental para mostrar aos legisladores e aos outros atores envolvidos, inclusive à CGU, quais eram, naquele momento, as melhores práticas de outros governos em relação ao tema, e, principalmente, para fazê-los compreender aspectos relacionados ao compliance e a instrumentos como os acordos de leniência da perspectiva das empresas. “Preparamos um estudo de umas 50 páginas que apresentamos para a Comissão e para a CGU, em novembro de 2011, com uma série de recomendações. Várias delas foram incluídas, o que mostra que o legislativo foi bastante receptivo. A própria CGU defendeu vários dos pontos que nós colocamos ali”, pontua Carlos, que naquele momento era membro do comitê de compliance do Instituto Brasileiro de Direito Empresarial (Ibrademp), entidade que teve papel ativo nas discussões. De acordo com Ayres, foram 20 advogados que trabalharam mais de 400 horas na elaboração desse material.
Entre as sugestões aceitas, estava a que criava os acordos de leniência, algo que não existia no texto original do PL. “Depois que apresentamos o relatório, o Deputado Zarattini me liga pedindo para ir no gabinete dele, para explicar o relatório. Quando eu chego ele diz: ‘essa questão da leniência, vocês estão tentando criar uma válvula de escape para as empresas, né?’, risos. E aí nós explicamos que não, que seria um processo no qual poderia haver a cooperação, que as empresas passariam informações que poderiam ajudar a desbaratar o esquema…”, conta o sócio do Maeda, Ayres. Ao final, o acordo de leniência foi incorporado, num modelo diferente do sugerido pela entidade, o que mostra que o processo legislativo foi participativo e que os legisladores tiveram ouvidos abertos para a sociedade, mesmo que em muitas dessas audiências públicas, mal houvesse plateia.
Nesse processo de tramitação, também existiam outros grupos de interesse fazendo pressão para tentar emplacar suas sugestões, em geral, no sentido de suavizar a lei em vários dos seus aspectos. “De um lado, você tinha empresas que super apoiavam a lei, empresas ligadas ao Instituto ETHOS, que queriam uma lei dura mesmo, para diferenciar as empresas; mas tinha um movimento, não tão visível, de outras empresas que queriam enfraquecer a lei”, lembra Carlos. Um dos pontos nos quais mais se batia era o da responsabilidade objetiva, apontado como algo perigoso e que poderia acarretar em injustiça com os empresários. Esse é um dos aspectos mais fortes da legislação e peça fundamental para que a LAC seja uma lei bastante efetiva em sua aplicação, como de fato ela é. Outro ponto chave da LAC foi a inabilitação para contratar com o Estado para as empresas que a violam, um dos grandes incentivos para que as companhias implicadas fechassem um acordo de leniência. “No final, conseguimos vencer as maiores preocupações que nós, enquanto profissionais de compliance, tínhamos. As outras, eram questões mais pontuais”, conta Carlos, situações como a que, caso a lei não fosse ajustada, poderiam resultar em situações paradoxais de empresas que reportaram seus delitos no exterior e não no Brasil. As discussões também passaram pela regulamentação dos programas de compliance, algo que não estava previsto no projeto original.
Para os profissionais de Compliance, a ansiedade em torno da sanção da lei era enorme. Afinal, a partir dali eles teriam um arcabouço legal local, mais simples até para apresentar e justificar a sua própria existência nas empresas, em especial as brasileiras. O julgamento do mensalão, que deu um primeiro chacoalhão no empresariado brasileiro para a importância do Compliance, atingiu a elite política, mas não alcançou o PIB nacional. Ou seja, seria preciso mais para que as coisas avançassem por aqui de forma mais rápida.
Uma vez sancionada a lei entrou em outra grande fase de expectativas, a do decreto que regulamentaria, em especial como seria o tratamento dado por essa regulamentação à avaliação dos programas de compliance das empresas em caso de sanções. Foi necessário pouco mais de um ano da entrada em vigor da LAC para que o decreto que regulamentou fosse publicado.
Também existia a expectativa para um primeiro grande caso de impacto, um caso Siemens brasileiro, capaz de mudar o patamar do compliance no Brasil. Mas aí, já estávamos em 2015, e de repente, o mundo corporativo brasileiro estava desesperado para montar seus programas de integridade.