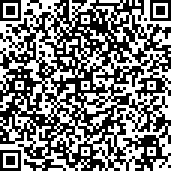Em meados de novembro do ano passado, ainda em meio ao turbilhão gerado pelo processo eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o bloqueio de contas de pessoas físicas e de cerca de 30 empresas, que de acordo com a Polícia Rodoviária Federal estariam financiando manifestações e ações contra o resultado das eleições e o estado democrático de Direito. O financiamento se deu tanto pela oferta de infraestrutura para os protestantes – parte deles já acampados em frente aos quartéis do Exército -, além do fornecimento de diversos caminhões que estariam sendo usados em bloqueios de rodovias.
Das empresas que tiveram suas contas bloqueadas, uma chamou muita atenção: a Rodobens. Tradicional empresa da área financeira com atuação em segmentos como o de consórcios e leasing de veículos, a Rodobens se viu dragada pela situação quando a Justiça recebeu a informação de que dois caminhões em nome da empresa foram identificados nos protestos e bloqueios de rodovias realizados após o segundo turno. Com forte presença de empresas que direta ou indiretamente atuam na cadeia de valor do agronegócio na sua carteira de negócios, os veículos identificados como sendo da empresa, na verdade, haviam sido financiados na modalidade de leasing operacional. Nesse modelo, o veículo permanece em nome do banco que financia a operação, nesse caso, o Banco Rodobens. O cliente tem a posse direta do caminhão e pode optar, ao final do contrato, pela aquisição do bem, quando ele passa a ser o dono do veículo também no papel. Mas, de fato, a Rodobens não tinha nada a ver com essa história toda. Tanto que a empresa rebateu de imediato as acusações e ainda no final de novembro teve as suas contas liberadas.
O fato de a Rodobens ter sido implicada na situação indica que faltou compreensão (ou um pouco mais de diligência) às autoridades do Judiciário em relação ao funcionamento do negócio da empresa. Ao menos com base no que foi tornado público, por qualquer ângulo que se olhe, é difícil não entender que o que aconteceu ali foi um erro. Por outro lado, o caso não deixa de ser ilustrativo para todas as empresas que, de alguma maneira, não só estão inseridas na cadeia de valor do agronegócio como participam do financiamento de diferentes elos dessa cadeia: existem novos riscos na praça. E, com eles, vêm a necessidade dessas companhias reforçarem a sua capacidade de análise relacionadas não so a prevenção à lavagem de dinheiro sob o seu viés mais tradicional, algo que muitas delas já fazem inclusive, mas a de levar em conta também o outro lado dessa moeda: os riscos de a empresa estar financiando atividades e grupos que possam vir a ser enquadradas eventualmente como terrorismo.
Essa questão e as discussões em torno dela subiram vários degraus após a invasão da praça e dos prédios dos três poderes por manifestantes no fatídico 8 de janeiro.
Claro que não se pode falar que tanto as manifestações, quanto o quebra quebra de Brasília foram atos do agronegócio. Mas é inegável a presença em ambos (e cumprindo diferentes papéis) de muita gente ligada a esse setor chave da economia brasileira. Os próprios participantes desse mercado reconhecem que muitos atores que estavam ali eram ligados ao setor. “Isso é claro e toda a mídia falou, o que traz preocupação para todo mundo que atua no agro, inclusive a Bunge que opera em diferentes frentes do setor direta e indiretamente”, conta Massamitsu Iko, gerente Global de Integridade da empresa, uma das líderes globais do agronegócio.
Até aqui, entre os 300 primeiros indiciados pelos atos de 8 de janeiro, ninguém foi implicado por terrorismo. E ao que tudo indica, é pouco provável que alguém o seja. “As coisas precisam ficar mais claras para a sociedade e para nós, nas empresas. O que caracteriza e o que não caracteriza terrorismo? Até porque, esse tipo de situação é algo novo para o País. Como determinar, se não for por meio de uma orientação do Estado, até onde vai o direito de manifestação e quando esse direito se excede? É uma discussão muito interessante”, diz o dirigente de uma empresa da cadeia do agro sob condição de não ter o seu nome revelado.
Do ponto de vista estritamente operacional, caso os perpetradores (ao menos alguns deles) venham a ser enquadrados como “terroristas”, o trabalho a ser feito pelos profissionais de Compliance passa a ter muito mais clareza sobre a quais riscos a empresa passa a estar suscetível ao realizar negócios com aquele indivíduo, especialmente no caso de empresas multinacionais, que costumam operar em jurisdições onde o financiamento de organizações consideradas terroristas costuma ser tratado com bastante rigor e multas pesadíssimas. Agora, se isso não for tipificado desta forma, veremos um grande e vazio debate de narrativas, para ficar num termo tão em moda nos dias de hoje, sem que as empresas possam saber como tomar decisões assertivas.
Foi só em 2016 que Brasília sancionou uma Lei Antiterrorismo (Lei 13.260/2016), uma demanda que vinha sendo feita pelo FATF-GAFI há tempos ao País, mas que, em meio ao turbilhão político que o país vivia desde junho de 2013, acabou restringindo, talvez além da conta, as situações nas quais é possível qualificar um ato como sendo terrorista.
No Brasil, as análises de financiamento ao terrorismo pelas empresas sempre foi algo aparentemente secundário, até pela forma como se construiu o entendimento do que seriam grupos terroristas. A resposta aqui no Brasil recairia, basicamente, sob elementos ligados a causas separatistas, histórica-territoriais, ou religiosas, cuja expressão mais famosa seriam os grupos de orientação islâmica no Oriente Médio (os terroristas por natureza, segundo o senso comum). Até porque boa parte das empresas e pessoas sancionadas pelo governo dos Estados Unidos estão em países dessa região. Aqui nas Américas, agrupamentos ligados a grandes grupos criminosos, como os cartéis do tráfico, apesar da extrema violência com que operam, não costumam ser percebidos como grupos terroristas. Mas, o que aconteceu no ataque aos prédios na Praça dos Três Poderes, é algo de outra ordem, porque, ainda que de maneira atabalhoada, é difícil não ver o que aconteceu como uma tentativa de um ato contra a integridade de espaços públicos e com objetivo de provocar terror social ou generalizado. Para ser enquadrado como terrorismo, é preciso que se dê mais um ato concomitante aos outros dois mencionados: a motivação por razões xenofóbicas ou de discriminação de raça, cor, etnia e religião. Esse é um ponto que não está dado. Em fevereiro, o senador Alessandro Vieira (PSDB-SE) apresentou um projeto de lei, o PL 83/2023, para incluir a motivação política na redação atual da Lei Antiterrorismo. Além dos ataques do 8 de janeiro, o senador diz ter levado em consideração os 11 episódios de ataques a torres de energia registrados em janeiro, que de acordo com a Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, resultaram em 16 linhas danificadas e quatro derrubadas.
Para Marcela Gamboa, executiva de Compliance que atua há anos com a agroindústria, trata-se de aprender a lidar com uma situação nova. “Você não tem condenações, apenas as acusações e aí tem princípios que precisam ser observados. O que a gente faz com pessoas que sabíamos que estavam lá? Se tiver condenação não tem o que discutir, muda o grau de risco e não se trata mais só de uma questão de imagem. Agora, sem a condenação, teremos que tratar da situação sob a ótica do risco reputacional, mas não com o risco material de lavagem”, entende a especialista.
Mas, ainda que a tipificação de terrorismo não venha a ser usada, o entendimento sobre o que aconteceu por boa parte dos formadores de opinião no mundo, e que existiu ali uma manifestação violenta, e se não pode ser taxado como terrorismo, no mínimo deve ser qualificado como um crime muito grave, o que já é razão mais do que suficiente para levantar uma red flag. Se você tem vários representantes de um mesmo setor implicados então, nem se fala. “Parceiros enquadrados em crimes graves ou atos terroristas, o risco dele sobe. E o nível das due diligence sobe na mesma linha”, diz o Chief Compliance Officer de uma companhia do setor que falou sob condição de anonimato. Na medida em que o risco sobe, diz essa fonte, a decisão sobre continuar ou não continuar fazendo negócios com ele, ou mesmo de romper um contrato passa a ser de um fórum mais qualificado e vai para níveis mais altos. Para essa mesma fonte, cujo negócio da empresa depende do arrendamento de terras de proprietários rurais, o processo de análise reputacional relacionada às áreas arrendadas e aos seus proprietários, que já existia antes, explodiu depois do 8 de janeiro, o que deve deixar muitas companhias diante de um velho dilema entre o que é legal e o que é ético. “Se o que aconteceu e eventuais atos e protestos parecidos que venham a acontecer no futuro não forem enquadrados como financamento ao terrorismo, então não vamos nos preocupar com isso; ou, independentemente disso, a seriedade e as consequências do que aconteceu vai nos fazer seguir olhando a situação com lentes mais grossas? Acho que essa resposta vai depender da tomada de decisão de cada empresa, mas, o que eu espero, é que se caminhe pela segunda opção”, diz o executivo.
Na Bunge, o olhar de Compliance levou a um reforço nos processos de due diligence tanto de fornecedores quanto de clientes da empresa. Os processos de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo é algo muito sério e muito forte nos Estaos Unidos, até pelos riscos de uma sanção do próprio governo dos EUA sobre empresas que eles identifiquem que tenham participado do financiamento de tais atos. “Fomos muito questionados pela nossa matriz sobre os riscos envolvidos em relação às pessoas físicas e jurídicas já identificadas, ou que constam no inquérito policial na lista de pessoas que participaram e financiaram os atos”, conta Iko. Aliás, o fato de os Estados Unidos terem passado por uma situação parecida, ajudou a matriz a entender melhor o contexto. “A grande diferença aqui é que teve uma participação forte dentro do agro, do governo anterior”, pontua o executivo da Bunge, que rodou os testes para ver se algum indiciado figurava no rol de clientes ou parceiros diretos da companhia, mas não identificou ninguém. Apesar disso, a empresa já tem a matriz de consequências definidas, a classificação de risco e o processo decisório, caso aparecesse um parceiro envolvido, porque não é Compliance que dá a palavra final. Para o executivo, esse monitoramento foi o primeiro impacto grande fruto do novo contexto. E ele obriga as empresas que lideram a cadeia de valor do agro a olhar com mais proximidade para a participação política dos seus atores e nas consequências dessas participações, que acabam gerando outros riscos, como o de crédito. “Se essas pessoas virem a ter problemas de crédito por estarem no processo, isso é um risco grande para nós”, reforça Massa Iko.
Também falando em condição de anonimato, um profissional da área de riscos, governança e integridade em uma empresa que financia operações para empresas do agro, o que aconteceu entre o final de 2022 e culminou a invasão a sede dos três poderes na capital federal, tem levado a companhia a discutir como aperfeiçoar seus mecanismos de análise. “Nossas análises PLDFT olham para a questão do terrorismo, mas muito na linha do terrorismo internacional”, diz o profissional que destaca que, independentemente do contexto temporal, o processo de revisão dos parâmetros de avaliação de PLDFT já estava agendado e abarca toda a estratégia de governança da empresa.
A relação dos grandes grupos da agroindústria com a sua cadeia de fornecedores é bastante crítica, particularmente com produtores rurais e suas áreas e processos produtivos, um universo gigantesco, composto em sua grande maioria por pequenos fazendeiros que respondem por muito do que é comprado ou vendido pelas gigantes da agroindústria. Marcela Gambôa acredita que o setor, já tem algum tempo, vem se preparando para lidar com essa cadeia de fornecedores, e mais do que isso, assumir uma maior responsabilidade sobre como eles estão operando. E se não bastasse o aumento do risco oriundo de ações que atentam contra a democracia, o ano começou expondo várias empresas do setor pelo lamentável uso de mão de obra análoga a escravidão na colheita. “Depois de tudo o que vem acontecendo, o agro está aberto e está esperto. O fornecedor está me prestando o serviço? Onde estão alojadas as pessoas que estão efetuando os serviços?”, alerta a especialista.
Esperando a poeira baixar?
Os riscos não são estanques, ainda mais quando se trata dos riscos relacionados com a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Tanto que é o FATF-GAFI, o órgão que estabelece as diretrizes globais de PLDFT, é quem estabeleceu e vem cobrando a disseminação da abordagem baseada em riscos para o combate a esse mal. Mas é preciso atenção, porque não se trata de estar sempre de olho no risco “mais quente” do momento às custas de outros riscos, que podem não estar em evidência, mas seguem lá. O que a abordagem baseada em risco estabelece, entre muitas outras coisas, é que as empresas tenham a capacidade de analisar quais são os seus principais riscos, de acordo com as dinâmicas e peculiaridades de cada setor e indústria, e direcionar os seus melhores esforços e recursos nos riscos que mais representam ameaças aos negócios dela.
Decorrido mais de um trimestre desde a barbárie no DF, as discussões sobre se o que seu viu deve ser enquadrado como terrorismo ou não, deixaram os holofotes e, como mencionado, o mais provável é que ninguém venha a ser fichado como terrorista. Diante disso, a agroindústria vai baixar a guarda (e a régua) nas suas análises de PLDFT? O nível de diligência pode voltar aos padrões praticados até o ano passado, quando essa discussão relacionada aos riscos que as ações de agentes de um setor poderiam ter em relação à defesa do estado democrático poderiam vir a ter, eram muito incipientes, isso quando existiam? Massa Iko acredita que não. “Independentemente de não ter um risco legal, de crédito ou de uma sanção, você continua tendo o risco reputacional. A participação contínua em atos desse tipo, não importa qual seja a posição política defendida, pode trazer algum tipo de risco reputacional no caso da associação com o nosso nome”, explica. Na Bunge, o monitoramento sobre esse tipo de questão faz parte dos processos de know your client/partner, olhando e analisando se a natureza do risco é aceitável dentro da sua matriz de risco ou não. E isso vai ser feito com mais frequência. A análise de mídias sociais dos parceiros também é feita pela empresa (embora não seja constante). As redes sociais, nessa situação em particular, são uma excelente ferramenta de autodenúncia involuntária, já que muitos dos envolvidos nos atos fizeram questão de se filmar na cena do crime. “Se vejo alguma notícia ou publicação relacionada a algum fornecedor, cliente ou alguém que está mapeado na cadeia, vou sempre perguntar. Preparo um formulário específico para ele se explicar e apresentar o lado dele”, conta Gambôa. Para ela, muito se escreve na internet, mas nem sempre o que está escrito tem substância. Por isso é importante fazer perguntas, esperar respostas e fazer uma bela análise de risco para entender se a realidade bate com o que a empresa está falando. “Cumprido esse rito, aí sim vai se avaliar se é um risco que se toma ou não. quanto ele é importante para mim? Quanto risco vale a pena correr? Ainda que seja apenas uma alegação, a falta de contraprovas suficientes e tenho motivos para acreditar que a matéria é bem fundamentada e que eu posso ter problemas? São análises nos quais todas as áreas estão trabalhando juntas: crédito, compras, compliance, comercial e o management da companhia.
Mais diligência, mais custos? Não necessariamente
Para as empresas de maior porte da agroindústria, que já contam com estrutura e ferramentas de inteligência para fazer processos de onboarding, KYC e de PLDFT, aprofundar a análise sobre os seus parceiros não vai exigir investimentos. No caso da Bunge, Iko diz que os sistemas existentes foram suficientes para dar conta do novo contexto e foi possível alocar os esforços necessários na estrutura de Compliance da companhia. A única coisa que mudou foi uma eventual ampliação do tempo dedicado às análises. “Se uma pessoa gastava 20% do tempo nesse processo, de repente ela precisou dedicar mais 10% de tempo”, pontua. Para o gerente global de Integridade, essa facilidade para absorver e realocar os recursos é possível justamente porque a Bunge opera sobre uma metodologia baseada em risco. “Não vamos olhar 100% do universo. É o risk based approach que nos ajuda a definir o que vamos olhar. Olhamos um perfil de risco de um grupo e falamos: ‘esse eu vou olhar e esse não’”.
Mas a realidade da Bunge não se espalha para todo o setor. Para empresas que já estavam com dificuldade para fazer todo esse processo de análise, será preciso investir caso queiram encarar os riscos de forma mais séria. Ao estabelecer um parâmetro adicional de pesquisa para fins de PLDFT nos clientes vinculados ao agronegócio, qual a repercussão desse olhar mais aprofundado no tempo de análise, sobre qual o volume de clientes que demandam essa “investigação” e mais: será possível gerar algum dado que possa, efetivamente, contribuir para uma análise de restrição ou não? Essa é uma medida sobre as quais as empresas que lidam com o setor e ainda não tem esse olhar, vão ter que se debruçar e fazer exercícios para avaliar se é possível e se vale a pena fazer esse investimento. Para. Massa Iko, fosse apenas uma necessidade em função dos riscos relacionados aos atos antidemocráticos, isso por si só não se justificaria. “Mas é um processo (o de PLDFT) que dentro do Compliance precisa ser feito”.
A AMPLITUDE DO AGRO
As áreas de Compliance de todos os segmentos do agro ligaram o alerta vermelho por conta dessa situação? Não. As grandes, em especial as multis, tem algo estruturado que já vem sendo feito para mitigar esses riscos. Até parte das médias empresas também. Mas o setor é tão grande e diverso, que é difícil um mínimo alinhamento de todas as cadeias. Existe uma quantidade gigantesca de pequenas empresas e produtores, que apesar do porte, estão bem inseridos nessas cadeias de valor, mas não tem absolutamente nada de Compliance. “É um desafio muito grande para desenvolver o Compliance na cadeia em áreas como o norte do Mato Grosso, Goiás, Maranhão e Piauí, nas quais muitos produtores não ouviram falar de Compliance”, recorda Massa, que também é um dos coordenadores da Guia de Compliance do Pacto Global da ONU para o Agronegócio, lançado no ano passado.
Para dar conta de entender o que se passa no campo (o chão de fábrica do agro), não se pode querer que o Compliance seja efetivo com a pessoa responsável só sentada na sua cadeira em São Paulo. “No agro, é preciso estar com olhos e ouvidos em todos os lugares”, brinca Marcela Gambôa. A especialista diz que nesse mercado, pulverizado em todas as regiões do Brasil, existe muito burburinho e por isso o time comercial pode ajudar muito os colegas de Compliance com informações direto do campo e das pequenas cidades.
Marcela Gambôa acredita que a cobrança sobre os profissionais de compliance do setor já está muito maior, até porque tem se exposto muita coisa que tem sido feita de forma errada também. “Só neste ano, veja quantas matérias negativas já vimos relacionadas à cadeia de abastecimento do agro”, lamenta ela, que por outro lado comemora o fato de cada vez mais assuntos de Compliance, ESG, lavagem de dinheiro em entrevistas e no dia a dia do mercado. “O agro é responsável pela maior parte do PIB do Brasil e vem sempre crescendo, aumentando a produtividade e incorporando melhorias. E nós, profissionais de Compliance do agro, vamos ter que acompanhar esse ritmo de avanço e não vamos conseguir fazer isso se não tivermos total controle da nossa cadeia de fornecedores, porque vamos ter que andar junto com outras áreas, como as pessoas que estão rodando nas estradas do Brasil buscando compradores e fornecedores”, conclui a especialista.