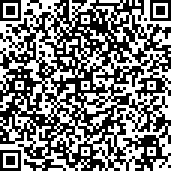Exigências do TCU em relação ao modo como o Governo Federal compra produtos e serviços na área de TI podem levar o mercado a adaptar seu modelo de negócios a uma nova realidade.
É praticamente impossível operar qualquer negócio hoje sem o uso de ferra- mentas de TI. Grandes bancos de dados, sistemas de gestão, pagamentos online, de atendimento, de compras… Quase tudo o que se possa imaginar, de um jeito ou de outro, passa por esses grandes sistemas de informação. No setor público eles são ainda mais oni- presentes e fundamentais, para que a pesada máquina possa funcionar nas suas diferentes áreas, da gestão dos programas sociais até as urnas eletrônicas.
O mercado de TI no mundo inteiro, especialmente em suas áreas mais críticas, é dominado por alguns poucos gigantes. Essas grandes empresas ocupam o mercado de softwares de gestão e banco de dados com suas soluções de ponta. Apesar disso, esse universo é composto por um grande número de atores. O modelo comercial do setor envolve, além das grandes fabricantes (donas da tecnologia), distribuidores, revendedores e integradores, que além de vender fazem a implantação do siste- ma. Enquanto os fabricantes atendem, via de regra, as grandes contas, em especial grandes corporações privadas, o atendimento às empresas médias e pequenas é feita pelos revendedores e integradores, que por sua vez são atendi- dos pelos distribuidores, que compram grandes quantidades de “licenças” para atender a esses segmentos.
Até aí, a dinâmica não difere em nada de tantos outros grandes mercados, nos quais os grandes players se limitam a atender diretamente aos clientes de grande porte, e utilizam de uma rede de distribuição independente para obter capilaridade e chegar, ainda que indiretamente, com suas soluções ao restante do mercado.
E como fica o atendimento ao setor público? Afinal, o Estado é altamente demandante dessas soluções de tecnologia e, portanto, em seu conjunto, grandes clientes. Com raras exceções, as grandes empresas optaram por estabelecer o atendimento ao setor público de forma indireta, via revendedores. Inclusive no caso do Executivo Federal, o maior cliente público do País.
Parte dessa opção tem a ver com a forma como, ainda hoje, o Governo organiza suas compras de tecnologia. Apesar de ser, em tese um ente único, o Executivo Federal não realiza suas compras de forma centralizada. Na verdade, não existe sequer o compartilhamento de informações técnicas e de valores pagos entre os diferentes órgãos. Isso faz com que uma determinada secretaria ou autarquia não se valha da escala de compras, nem da expertise técnica e nem do compartilhamento de serviços com outros órgãos do governo. Ou seja, ela acaba sendo tratada não como parte de um grande contrato de compras – como uma multinacional pode estabelecer com as fábricas –, mas como uma pequena empresa. O ponto é que o bolso que paga nesse caso é um só: o nosso. Sem falar que se abrem muito mais frentes para eventuais ilícitos como formação de cartéis e corrupção, especialmente em órgãos menos estruturados.
Quando o calo aperta
Outro motivo, esse mais diretamente relacionado ao compliance, reside nos riscos que costumavam estar “embutidos” nas vendas para o setor público. Esses riscos começaram a crescer de forma exponencial para as grandes multinacionais do setor com o avanço de legislações como a Sarbanes-Oxley (SOx) e dos enforcements relacionados ao FCPA, em meados da década passada. Vale lembrar que alguns dos nomes mais importantes do setor foram alvos de processos (e outros estão sendo investigados) por violações ao FCPA praticada por parceiros de negócios dessas companhias em outros países.
Para Mariano Gordinho, presidente da Abradisti, associação que reúne os distribuidores da área de TI, esse foi um dos motivos pelos quais as empresas optaram por não vender aos governos no Brasil. “A partir do momento que os mercados internacionais começaram a ficar mais pressionados pelas questões tipicamente de compliance e que começamos a ver punições reais, com vários incidentes comprometendo a integridade de companhias, a preocupação dos fabricantes com o compliance se tornou maior”, diz o dirigente.
Ao passar a vender apenas via distribuidores e revendedores, muitas empresas passaram a acreditar que transferiram o risco das vendas públicas ao distribuidor, e junto com isso, as questões éticas e de compliance da companhia. “O máximo que poderia acontecer era a matriz mandar descadastrar um distribuidor que tivesse se envolvido em alguma situação de corrupção, como se a empresa nunca tivesse vendido para o Governo. Existia esse modelo de blindagem na qual ela se julgava protegida”, lembra Mariano.
Cliente difícil
Vender para o Governo nunca é fácil. Por questões boas, como as exigências cadastrais e técnicas que são feitas; e também por problemas, como estabelecer em contrato um prazo de 30 dias para o pagamento, mas só receber o valor um ano depois. Sem falar nos contratos padrões, que não permitem que os vendedores possam protestar por inadimplência os títulos do Governo, por exemplo. Mas, com uma boa margem de rentabilidade, os distribuidores conseguiam manejar os negócios e foram eles que acabaram assumindo esses riscos. Num primeiro momento, com o apoio das fábricas que eram parceiras e seguravam o pagamento do distribuidor, caso o Governo não pagasse, bagunçando a cadeia do setor. Nesse modelo, muitos distribuidores cresceram alguns exponencialmente porque abraçaram esse filão das vendas para o Governo.
O problema é que com o advento da SOx, essa prática comercial ficou mais complicada. As multinacionais, especialmente as de capital aberto, só podiam reconhecer contabilmente uma receita quando o dinheiro entrava de fato. Isso fez com que o cenário passasse a mudar. As fábricas passaram a estabelecer um prazo máximo de pagamento para os distribuidores, para não comprometerem os seus próprios resultados. Alguns atores buscaram outras formas de compensação, oferecendo mais crédito, por exemplo. Mas, a verdade é que sem dinheiro no caixa os distribuidores ficaram pressionados entre as fábricas e o Governo. A partir daí, muitos problemas começaram a aparecer. Especialmente, porque nesse período, o mercado de distribuição abraçou um modelo no qual os revendedores faziam o processo de venda, mas quem faturava era o distribuidor. “Ao invés de o revendedor comprar a licença e emitir a sua nota fiscal de vendas, ele passou a atuar como um agenciador, que era comissionado por essas vendas”, aponta Mariano.
Esse modelo era uma forma de otimizar a cadeia de tributos que incide num processo com muitos intermediários e, também, por questões de porte e cadastro para participar desses processos de venda ao Governo, além de dar oxigênio aos revendedores, em geral empresas de pequeno porte. “Só que até antes de 2015, no meio desse caminho todo, haviam inúmeras fragilidades em todos os elos e não só no revendedor e no comprador”, reconhece o presidente da Abradisti. “A fábrica sabia disso e operava com essa premissa. Não tinha uma lei local que poderia colocar gente na cadeia. Isso amolece o coração dos corruptos”, acredita Mariano Gordinho, para quem foi só entre 2014 e 2015, com as prisões, com a Lei Anticorrupção e a responsabilização direta que a ficha realmente caiu. “O problema já existia, mas não tinha uma pressão legitimada. Tinha até uma punição corporativa, mas não tinha uma punição legal. Mesmo com o FCPA.
Exigindo muito mais
O processo de vendas das fábricas para os distribuidores é relativamente simples e amarrado em contratos com cláusulas e exigências entre as duas partes, que esperam manter um relacionamento comercial por um período mais longo. E foi nesse ponto que as fabricantes passaram a apertar seus parceiros em relação à adoção de regras de compliance mais rígidas, usando a sua posição para exigir que eles passassem a cuidar também de garantir o compliance nas suas operações. As grandes empresas do setor passaram a exigir a adesão dos parceiros aos programas de compliance, a realizar due dilligences, olhar para o estoque, o que vendeu, para quem vendeu. “A fá- brica, por contrato, tem autoridade para de fato ir muito mais fundo no negócio do parceiro, e elas têm feito isso”, diz Mariano, da Abradisti. Sem adesão, não tem vendas. “Essa é a ferramenta que eles têm para exigir que os seus parceiros sejam confiáveis”, reforça o dirigente.
Esse processo, ainda em andamento, vem resultando no aumento no número de parceiros das grandes fábricas descadastrados por problemas ou deficiências não resolvidas em relação às demandas de compliance. Não só pelo FCPA, que vem dando repetidas mostras de que tende a apertar o cerco contra as empresas que não se preocupam com o que os seus parceiros estão fazendo; no Brasil, a evolução também vem se dando nesse sentido, fazendo com que os distribuidores, que dependem de uma fábrica mais do que uma fábrica depende dele, corram para se adequar a essa nova realidade. Porque as fabricantes não parecem mais dispostas a correr esses riscos.
Embora represente um desafio, esse movimento também abre grandes oportunidades para os distribuidores e revendedores dispostos a abraçar o compliance na gestão dos seus negócios. “Os fornecedores globais tem visto com bons olhos que seus distribuidores e revendedoras tenham os seus programas de compliance. Isso acaba funcionando como um diferencial competitivo para esses parceiros de negócios, e alguns distribuidores e revendedores têm realmente abraçado essa questão”, acredita Matheus Cunha, sócio-diretor da T4 Compliance, consultoria especializada em compliance. Na grande maioria dos casos, essa adoção se dá por uma visão de negócios, uma vez que não se trata de uma exigência legal, mas sim de uma exigência de mercado. Embora seja importante ressaltar que, ao menos o estado do Rio de Janeiro e o governo do Distrito Federal, já exigem que seus fornecedores contem com programas de compliance para quem queira vender a eles.
Modelo Rígido
Se vender para o Governo implica em lidar com um cliente que oferece cláusulas contratuais duras, no sentido de que suas obrigações são de fácil descumprimento (o que afeta, especialmente revendedores e distribuidores), um relatório do TCU sobre os modelos de compra de TI no Governo Federal diz o mesmo em relação aos grandes fornecedores de tecnologia na sua relação com o setor público como cliente.
“Esse cenário se torna agudo quando se confronta com um mercado em que há grande concentração das soluções em poucos fabricantes de software, bem como elevada dependência desses sistemas para o núcleo do próprio negócio das organizações públicas. A assimetria econômica e informacional entre os órgãos da Administração Pública e os grandes fabricantes de software subverte a lógica da supremacia do interesse público, pois os órgãos públicos são forçadamente levados a aderir a termos de licenças preestabelecidos com cláusulas não previstas em contrato, muitas delas contrárias à legislação pátria”, diz o ministro do TCU, Aroldo Cedraz, relator do caso na corte. “A Administração Pública não pode ser mais refém de contratações de TI antieconômicas, que não atingem os fins a que se destinam e drenam cada vez mais recursos públicos, muitas vezes com entregas aquém dos requisitos acordados nos contratos celebrados e em tempo superior ao inicialmente pactuado. Tenho me posicionado veementemente contra essa ineficiência, que contrata mais do mesmo e não entrega os resultados esperados, sem consequências realmente pedagógicas para contratantes e contratados”, reforça o ministro em seu relatório.
As críticas são inerentes ao modo como o universo de TI funciona na prática. Pela complexidade dessas plataformas, ao escolher uma delas, estabelece-se um casamento, com tudo o que um relacionamento pode ter de bom e de ruim. A diferença é que o divórcio, num caso desses, pode ser mais demorado e custoso. Isso torna o usuário, o cliente, altamente dependente do pós-venda, da manutenção e de serviços de atualização, além da renovação de licenças de uso. Ao entrar no universo de um desses grandes fabricantes, comprando um sistema de gestão de empresas, por exemplo, dificilmente você conseguirá migrar para outro, porque eles não conversam. “Quando um órgão público adota a estrutura de uma empresa X para um banco de dados, é muito difícil sair”, pontua Matheus.
Antes de optar por uma plataforma, é importante que o Poder Público faça uma boa análise sobre qual a função da- quela tecnologia para o órgão público, analisar e entender quem serão os usuários, com que outros sistemas será preciso “conversar” e buscar a aplicação mais adequada para viabilizar essa necessidade. E esse é um primeiro ponto de problema hoje: um despreparo técnico para identificar necessidades e entender as tecnologias mais adequadas para atender aquelas necessidades. Não que não existam servidores qualificados no Executivo com conhecimento e expertise para cumprir a missão. Mas eles não podem ser encontrados em todos os órgãos do governo, e como não existe uma coordenação centralizada, capaz de auxiliar nesse processo em todas as áreas do governo, esse conhecimento acaba ficando represado em ministérios e autarquias mais bem estruturadas. Mesmo entre elas, muita sinergia e inteligência também não são aproveitadas, numa mentalidade que na prática é o “cada um com seus problemas”.
Esse desconhecimento, além da questão óbvia (e mais importante) de não conseguir alinhavar uma estratégia comum de TI no Executivo Federal, faz com que muitos órgãos acabem comprando soluções que não atendem ao que se espera, ou, adquirindo mais recursos do que o necessário, jogando dinheiro público fora. O mercado de TI participa desse processo, e portanto, tem um grau de culpa no cartório. “Quando se lança um edital de uma licitação, geralmente de três anos, para a implementação, o processo é precedido de uma análise de toda a rede de infraestrutura. Tem todo um ambiente de vendas iniciais, que faz parte do processo de venda. Alguns órgãos fazem consulta pública para chamar fornecedores para fazer esses testes”, explica Matheus Cunha. Os órgãos não sabem comprar soluções e isso abre uma série de possibilidades para problemas dentro do fluxo do processo de compras. Se você começa comprando mal, a probabilidade de algo dar errado é muito grande. É importante dizer que em muitos casos, revendedores e distribuidores também poderiam olhar com mais cuidado e zelo para atender ao órgão público no que ele realmente precisa com aquela tecnologia, sem “empurrar” opcionais desnecessários para aquela necessidade. Mas não para por aí. Uma vez implementado, inexoravelmente, será necessário renovar as licenças de uso da ferramenta. Aí o problema é exponenciado e a responsabilidade do mercado, em especial dos grandes fabricantes, é grande. Pela Lei 8666, que rege as licitações públicas, o órgão poderia renovar o seu contrato uma vez sem a necessidade de um novo processo licitatório. Só que muitos contratos das fabricantes com os seus distribuidores e revendedores não permitem que eles façam uma renovação de contrato com o setor público. Ou seja, a renovação da licença deixa de ser feita com a dupla revendedor e distribuidor, para ser feita com a própria fabricante, só que em outras condições. “A fabricante vai vender direto as licenças, mas com o preço cheio. Esse é um padrão do mercado que foi apontado no relatório do TCU”, conta o sócio da T4 Compliance.
É na renovação das licenças que o modelo de negócios atual se mostra mais desequilibrado. Apesar disso, a própria Lei 8666 não é tida como adequada para esse tipo de aquisição. “Quando o Governo tem que renovar a licença e a revenda diz que ele tem que comprar direto da fábrica. E aí entram complicações relacionadas ao próprio processo licitatório. ‘É a única empresa capaz de fornecer esse produto?’ ‘Tem condições de licitar mais de um fornecedor?’ ‘Se não tem, quais os procedimentos para desobrigar a contenda?’”, questiona Mariano. Nesse caso, caberia ao Governo tomar as rédeas da situação e estabelecer critérios claros, como exigir prioritariamente que a licença seja renovada com quem vendeu.
Atacando o problema.
O TCU já vinha acompanhando a relação comercial entre o mercado de TI e o setor público, desde o início do milênio, por enxergar supostas práticas anticoncorrenciais na contratação de softwares e serviços agregados, além de riscos na contratação de sistemas de gestão de grandes fabricantes. Os primeiros casos apontados no Acórdão datam de 2003. Matheus, da T4, aponta para a amplitude temporal do recorte que serviu de análise como um dado interessante. “Em última análise, podemos entender que as condutas que estão sendo praticadas hoje estarão sendo olhadas no futuro”, diz o especialista. Como alguns atos ilícitos tem prazos prescricionais bem extensos, eventualmente, empresas e seus gestores poderão ser responsabilizadas no futuro por atos fora de compliance.
Para estabelecer o seu relatório, o TCU realizou uma auditoria operacional em uma secretaria do Ministério do Planejamento, no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), além de realizar a avaliação equivalente no Serpro e na Dataprev. Para conhecer as perspectivas de outras organizações públicas, com atuação central em compras públicas, foram incluídas na avaliação entidades como Banco do Brasil, Eletrobras e a Central de Compras da Superintendência de Ad- ministração do Ministério da Fazenda.
Em linhas bem gerais, as principais “broncas” do Tribunal dizem respeito à falta de uma estratégia que permita ao Poder Público se valer da sua musculatura, do grande volume de compras, para obter preços e condições mais competitivos para os produtos e serviços que compra e que isso seja válido para todos os órgãos do Executivo Federal, seja para o pedido de um órgão gigantesco, seja para uma pequena autarquia. Ao mesmo tempo, é necessário criar formas de melhorar o aproveitamento do conhecimento técnico disponível nos diferentes poderes evitando compras equivocadas sejam por serem desnecessárias, sejam por serem mal especificadas que no fim resultam em desperdício de dinheiro público. Em resumo. O problema central é que o Governo compra errado. E isso é um risco para todo mundo. “Do ponto de vista das multinacionais, ainda que de forma indireta, onde o Governo compra mal e o distribuidor vende mal, ela tem riscos, porque elas respondem pelos seus parceiros”, lembra Matheus.
O relatório do Tribunal também trata das mudanças futuras que se avizinham para o mercado de TI e que vão impactar sobremaneira o modelo de negócios do setor, com o avanço cada vez mais rápido para o modelo de assinaturas, o software as a service e para o qual o Governo Federal deveria começar a se organizar para lidar com essa nova realidade, para o qual o Executivo ainda parece não estar pronto na avaliação dos ministros do Tribunal.
Construindo um modelo novo e mais inteligente
A partir das ponderações do TCU, a Secretaria de Governo Digital, lotada dentro do Ministério da Economia, foi incumbida de responder aos apontamentos feitos pelo Tribunal. A Secretaria é o órgão que cuida da estratégia de TI do Governo e a quem cabe definir padrões, regras e diretrizes relacionadas ao assunto. “Daí porque o Acórdão dos grandes fornecedores de TI estar sendo tratado dentro do nosso guarda-chuva”, explica Ulisses de Melo, secretário adjunto de Governo Digital.
Uma primeira leva de recomendações, que dizia respeito a ajustes em processos licitatórios e em contratos, para evitar, por exemplo, cobranças relativas à correção de erros (inclusive retroativos), ou exigências de contratação conjunta de serviços de suporte técnico e atualizações de versões, o que afrontaria legislações nacionais, deveriam ser efetuadas em até 120 dias. “Era um prazo muito específico que tínhamos para aprimorarmos uma série de processos, inclusive, pedimos mais 20 dias, porque recebemos mais de 700 contribuições no processo de consulta pública que abrimos e que tiveram que ser analisadas uma por uma”, pontua Ulisses. Esse primeiro movimento foi concluído no final de março.
Entretanto, é a partir da segunda leva de recomendações do TCU, com prazo de 240 dias para serem respondidas, que vão servir de base para que a Secretaria de Governo Digital estabeleça um novo modelo de contratação de softwares e serviços de TI. O ponto de partida é bastante óbvio. O Governo não se vale da sua escala (como grande cliente) para negociar com os grandes fornecedores de forma centralizada, perdendo em preço, padronização e otimização de recursos. Por isso, a Secretaria está trabalhando para que o processo possa ser tratado de forma única. “O que o Tribunal nos demandou é um estudo que mostre as possibilidades”, pontua Ulisses. Para isso, ele e sua equipe foram pesquisar as experiências de outros países e de mercados diferentes e, com base nesses benchmarks, estabelecer um modelo para o Brasil.
O processo ainda é todo muito novo e deve ser construído em várias etapas. “Estamos falando, muito provavelmente, de um modelo que vai implicar em alterações na lei”, diz Ulisses, ressaltando que não existe nada definido ainda. Mas ele garante que será proposta que não esteja vinculada a atual lei de licitações. “O que vamos propor será algo novo. O modelo atual não nos atende”, reconhece o secretário.
Matheus, da T4, concorda que a atual Lei de Licitações é arcaica e burocrática, ainda mais em se tratando do mundo tecnológico, no qual as novidades acontecem muito rapidamente e a legislação não consegue acompanhar. “Isso gera vulnerabilidade para as empresas e para a administração publica tanto quem compra, quanto quem precisa fiscalizar”, conta Matheus. Ele acredita que seria interessante a criação de um pacto setorial envolvendo todos os players do setor – a exemplo do que acontece em outros segmentos – para que seja repensado o modelo de compras públicas.
Um modelo em estudo é a construção de um modelo de marketplace, no qual os softwares, licenças e serviços relacionados à área de TI estariam disponíveis para todos os órgãos públicos do Executivo Federal, com preços e condições acordados de forma centralizada pelo Governo. Com isso, uma pequena autarquia poderia se beneficiar do volume de compras total do Governo para adquirir as licenças pelo mais baixo do que conseguiria no atual modelo.
O diretor do Departamento de Operações Compartilhadas da Secretaria, Merched Cheheb, explica que a ideia do Governo é fazer um acordo com os grandes fornecedores. “Estamos escutando as empresas em grupo, principalmente via associações, o que dá mais transparência e uma visão que é mais setorial e não de uma ou outra empresa”, conta Merched. No modelo pretendido, o Governo negociaria os valores diretamente com os grandes fornecedores de tecnologia, com a eliminação do intermediário nessa fase do processo. “Podemos até ter a participação do revendedor, se a fabricante assim preferir, desde que se respeite o preço máximo negociado. O mesmo valeria para a contratação de serviços agregados”, explica Merched, que diz que o sistema pode contar, inclusive, com mais de um vendedor para o mesmo tipo de licença. “Essa é uma decisão interna da empresa”, reforça. O Governo deve ter uma nova reunião no mês de abril para escutar a posição do mercado de TI sobre o assunto. “Estamos tendo muito cuidado porque é um trabalho de inovação, temos que ouvir o mercado e ter uma boa base legal”, diz o diretor do Departamento de Serviços Compartilhados. “É necessário um meio termo para atingirmos os anseios de todas as partes, garantindo a estabilidade comercial e, também, os princípios constitucionais que vão proteger a administração pública”, corrobora Matheus Cunha. Além disso, a Secretaria de Governo Digital trabalha em uma série de iniciativas para melhorar a conectividade dos sistemas e a unificação da base de dados, permitindo que o cruzamento de informações seja feito em uma única plataforma, por exemplo. “São estudos, não tem nada definido, mas o importante é que temos uma linha de ação”, pontua Ulisses. Estando pronto, seja qual for o modelo adotado, ele poderá servir, também, aos outros Entes e Poderes da Federação. “Tudo é uma questão de negociação. A hora que estabelecermos o modelo, faz todo o sentido a participação de estados e outros entes, que poderão se valer das negociações”, conclui o secretário.
Imagem: Freepik